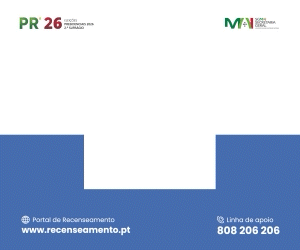No passado dia 18 de janeiro, os portugueses foram às urnas para escolher o Presidente da República. A participação foi superior à registada em eleições presidenciais recentes, com a abstenção a recuar para níveis que não se viam há cerca de duas décadas. O resultado confirma que, longe da ideia de apatia, os portugueses estiveram preparados para mais um momento decisivo.
Os resultados não surpreenderam ninguém que tenha acompanhado a campanha eleitoral. As sondagens da última semana foram claras: a segunda volta seria disputada entre António José Seguro e André Ventura. Tudo o resto foi ruído. Muito barulho e pouca substância. As candidaturas da esquerda mais radical cumpriram o seu ritual habitual: marcar presença, repetir discursos performativos e, no fim, desaparecer. Juntas, conseguiram cerca de 4% dos votos e, num gesto tardio e politicamente irrelevante, anunciaram apoio a António José Seguro. Não é um gesto de grandeza, esses 4% não decidem eleições – e, sejamos honestos, nunca tiveram essa ambição. À direita, o grande derrotado da noite é Luís Marques Mendes.
O candidato do governo protagonizou uma campanha errática, sem identidade própria, sempre dependente da sombra de um executivo impopular. A tentativa desesperada de colar a candidatura à máquina governativa – com o Primeiro-Ministro presente – revelou-se um erro grave. Num país exausto com o estado da saúde e revoltado com uma lei laboral que promove a precariedade, assumir-se como “candidato do governo” foi politicamente suicida. O resultado foi tão previsível quanto merecido.
O caso do Almirante Gouveia e Melo é ainda mais elucidativo do vazio político que atravessa o país. Durante meses liderou sondagens sem nunca dizer uma palavra relevante. Tentou ser um símbolo, uma projeção, uma ideia vaga de autoridade. Mas eleições não se ganham em silêncio.
Quando trocou a farda pelo fato, perdeu o mistério sem ganhar conteúdo. Afugentou os conservadores, não convenceu o eleitorado socialista apesar de ser um produto político do PS – e terminou a campanha sem deixar uma única posição clara. Tentou ser tudo e acabou por ser nada.
João Cotrim Figueiredo apostou numa campanha digital, dirigida aos mais jovens, com uma estética moderna e um discurso liberal repetitivo. Bastou, porém, o surgimento de polémicas e suspeitas para expor a fragilidade política da candidatura. A incapacidade de prestar esclarecimentos claros, substituída por uma defesa caricata baseada em declarações coletivas subscritas por 30 mulheres, comprometeu de forma definitiva qualquer pretensão de ser levado a sério.
André Ventura, por sua vez, fez exatamente o que sempre faz: mobilizou o seu eleitorado fiel, imune a factos, escândalos ou contradições. O voto é automático, quase mecânico. Não cresce porque convence – cresce porque explora ressentimentos e portugueses revoltados e abandonados.
No meio deste cenário de falhanços sucessivos, António José Seguro destacou-se não pelo espetáculo, mas pela coerência. Num tempo em que a política vive de gritos e provocações, Seguro apresentou decência, previsibilidade e sentido institucional. Quando afirmou, no lançamento da sua candidatura, que regressava porque acreditava que podia unir, estava a assumir uma responsabilidade. E os resultados da primeira volta confirmam-no. A 8 de fevereiro, a escolha será clara. Não entre esquerda e direita, mas entre democracia e ruído, entre estabilidade e aventura, entre um candidato que compreende o país real e um candidato que vive do conflito permanente.
Aos democratas, aos que acreditam num Portugal plural, imperfeito, mas unido nas diferenças, resta uma responsabilidade: não falhar quando a História volta a bater à porta.